Nelson Fonseca Neto
Santo asfalto
Infelizmente, digo a eles que as minhas caminhadas precisam ser feitas na cidade
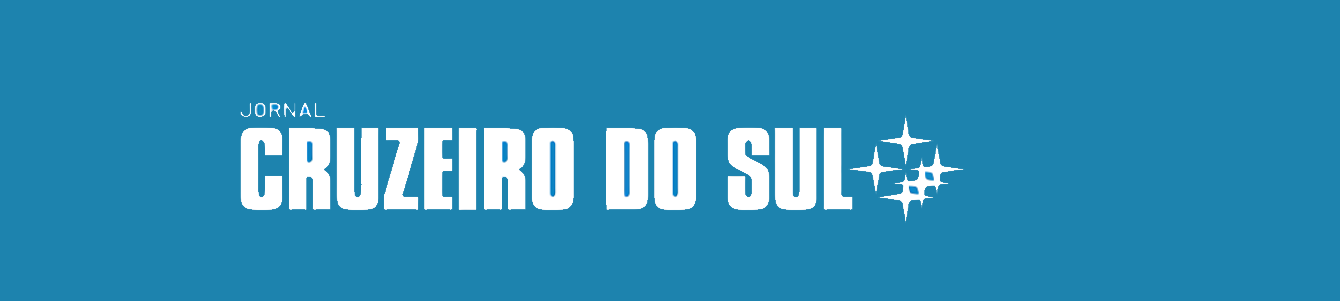
Não me dou bem com as noites de domingo. Trata-se de um caso antigo. Sempre achei tristes as noites de domingo. Não por pensar nos compromissos do dia seguinte. Não por isso. Era porque a cidade ficava vazia, silenciosa.
Quando eu era criança -- isso nos anos 80 --, a situação era pior. Lembro de passar, junto com os meus pais e meu irmão, pegar pão na janelinha da padaria Cattani. Penumbra ao redor. Poucos carros passando nas ruas. Eu pensava, enquanto esperávamos no carro, em cidades agitadas, com vida noturna trepidante.
Fico estarrecido quando ouço amigos contando suas viagens marcadas pelo mato e pelo cricrilar dos grilos. Esses meus amigos contam da dificuldade de se chegar ao vilarejo. Depois entram nos detalhes das casinhas, das cachoeiras, da rede elétrica precária. Dizem essas coisas com os olhos brilhando.
Tento ouvir com um silêncio respeitoso. Mas não consigo deixar de pensar: mas será que não tem hospital perto? E se a virose correr solta? E a farmácia? Eu sei, eu sei: são pensamentos de um sujeito acovardado pelo conforto da cidade grande. Fazer o quê?
Tenho amigos que são craques em trilhas. Eles fazem roteiros ousados. Percorrem morros e montanhas. Acampam bravamente. Perguntam se eu toparia encarar a jornada. Sabem que sou adepto das caminhadas. Infelizmente, digo a eles que as minhas caminhadas precisam ser feitas na cidade. De preferência, com muita gente e muito barulho por perto.
Às vezes, se não tiver jeito, faço uma caminhada com a cidade mais vazia, num final de tarde de sábado, por exemplo. Nessas horas, meio que na penumbra, encaro numa boa a viela erma. Sinto-me protegido na cidade. Sei que é ingenuidade agir assim, mas não resisto.
Como dizem os sábios, papel (ou tela de computador) aceita tudo. Eu poderia embelezar a realidade e dizer que encaro galhardamente uma caminhada no mato. Seria tão mais simples! Minha versatilidade de andarilho colheria elogios. Só que aqui eu tento ser sincero. E a cruel verdade é que não me dou bem com cobras, calangos, gaviões e tarântulas.
Não tem jeito: o ser humano é um bicho engraçado. Vivo reclamando das chateações da cidade grande. Barulho de moto me irrita profundamente. Gente falando alto no celular merece multa. Trânsito carregado é teste para verificar a santidade do cidadão. Ao mesmo tempo, sei que sentiria falta desse frenesi.
Muitos anos atrás, fui a uma praia considerada “paradisíaca”. Aquele mar azul de propaganda. Faixa de areia com uns cinquenta metros de comprimento. Um barzinho rústico para servir os turistas. Naquele dia, pouca gente circulando por lá. Para chegar à prainha, tínhamos de descer por uma trilha no morro.
Quando a praia se descortinou aos nossos olhos, fiquei deslumbrado. Até tive uns pensamentos místicos. Mas durou pouco. Depois que nos acomodamos, pensei em desgraças. E se malfeitores chegassem num barco? E se o tempo virasse, e caísse um temporal? E se alguém tivesse uma insolação? E foi assim que o paraíso tornou-se purgatório. Eu ia dizer “inferno”, mas aí seria forçar a barra. Para o tempo passar mais rápido naquele lugar ermo e radiante, fui recriando mentalmente as maravilhosas praias de Santos e São Vicente.
Quando alguém pergunta qual é o lugar que mais desejo conhecer, não respondo “uma cidadezinha italiana” ou “uma vinícola na Borgonha”. Nada disso. Cravo sem titubear: Tóquio. É que uma amiga minha disse que, lá em Tóquio, as ruas e calçadas fervem às três da manhã. Tudo isso com muita luz piscando.
É a minha ideia de paraíso.