Tão longe, de mim distante
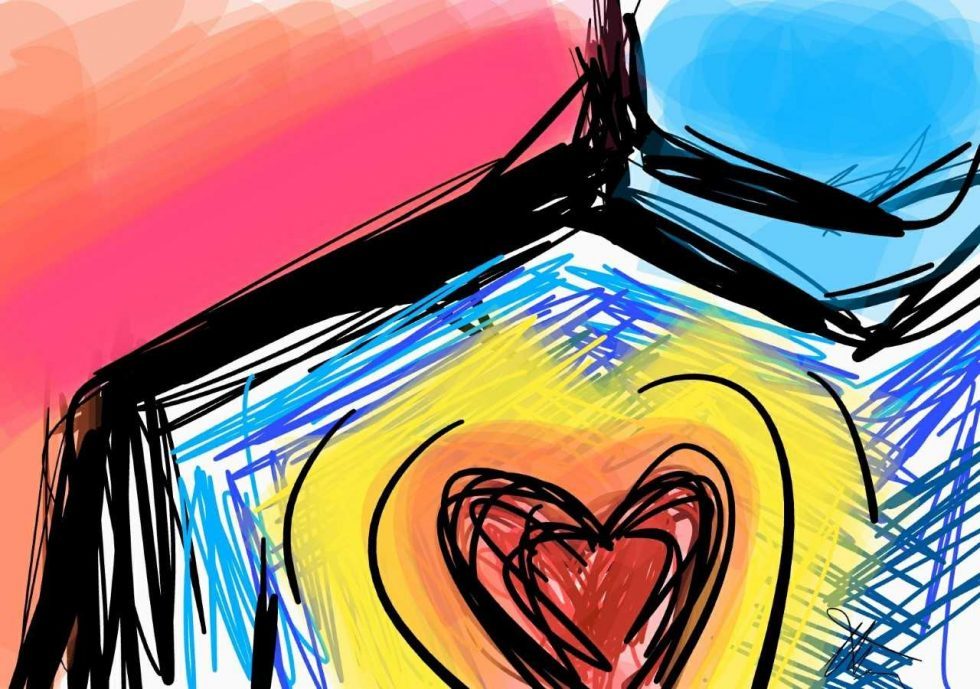 Ilustração: Vanessa Tenor
Ilustração: Vanessa Tenor
Em 16 de setembro de 1896, há exatos 122 anos, deixava de bater o coração de Antônio Carlos Gomes, nosso mais conhecido compositor de óperas. O músico campineiro faleceu em Belém do Pará, último local que o acolheu no Brasil. Durante o século 19, Carlos Gomes e o padre José Maurício Nunes Garcia foram nomes essenciais para entender a cultura musical brasileira.
O que tinham em comum dois homens que nunca se conheceram? Ambos viveram a partir de modelos europeus para a música e foram julgados pela posteridade pelos mesmos padrões. No caso do padre José Maurício, seu precoce talento como cantor, instrumentista e compositor recebeu o apoio do príncipe regente d. João na recém-instalada Corte do Rio de Janeiro. O sucesso foi enorme até que, de repente, a chegada do mais importante compositor português (Marcos Portugal) eclipsou parte da ascensão do padre carioca. Fundamental na estética que refletia a transição do Barroco para o Neoclassicismo, o brasileiro perdeu espaço para o concorrente lusitano. O padre morreu na miséria.
Da mesma forma, desde cedo, Carlos Gomes foi acusado de ser um simples imitador genérico de Giuseppe Verdi. Padre Maurício e Carlos Gomes foram apontados como talentosos, capazes de algumas melodias interessantes, porém reflexos do Velho Continente, farol do mundo. Éramos o planeta tropical iluminado por um sol maior, uma fonte de verdade e de talento: a Europa. Lá estava o sentido, a beleza e a razão maior. Padre José Maurício e Carlos Gomes seriam copiadores e, como tal, menores.
Outra coisa os aproxima: eram mulatos (ou negros, dependendo do critério e da sensibilidade). Os dois buscaram reconhecimento em um mundo racista e excludente. Ambos conheceram a ordem escravocrata do País e seus espetáculos públicos de violência. No caso de Carlos Gomes, avançado mais o discurso eugenista do século 19, ainda sofreu um processo de branqueamento com a obra biográfica da filha (Ítala Gomes Vaz de Carvalho) que, tentando afastar-se do matiz africano da família, desenvolvia sofisticada genealogia espanhola para o pai. Havia uma mistura do desejo do público e dos próprios artistas de ressaltarem antes o Rio Guadalquivir do que o Congo. O mesmo problema duplo, racismo do público e aspiração do artista, faria coisas similares em Machado de Assis e Mário de Andrade, outros gênios com melanina maior do que as elites assimilariam.
O campineiro e o carioca foram úberes em obras e filhos. O período colonial e parte do século 19, antes do moralismo burguês e do ultramontanismo católico, conviviam de forma mais tranquila com a vida privada dos homens de batina. No Senado brasileiro, por exemplo, desfilava o padre José Martiniano Pereira de Alencar, pai do famoso escritor José de Alencar. Outro líder político, o padre Feijó, foi ainda mais ousado do que seu contemporâneo. O regente era padre, era filho de padre e gerou filhos.
Pior, talvez pelas disputas políticas, foi acusado de viver de forma incestuosa com a irmã e especulou abolir formalmente o celibato religioso. Um historiador sempre sorri quando alguém diz que hoje as pessoas são imorais e que o mundo contemporâneo está perdido. As crônicas coloniais e imperiais fariam corar homens de bem de 2018.
Volto aos nossos músicos. Cada biografia como a deles revela muito da nossa postura diante da cultura, construções sociais, racismo e criatividade. O debate é antigo. Haveria valores nacionais nas composições? Apresentar um traço local seria sinônimo de qualidade? Mário de Andrade buscava modinhas escondidas nas partituras sacras do século 19 para saber se poderíamos perceber o tropical sob as colcheias? Padre José Maurício e Carlos Gomes teriam mérito fora do nosso desejo de ter nomes brasileiros de destaque para atender o nosso nacionalismo, este também um valor europeu transplantado?
Como sou um historiador, evito entrar no debate dos especialistas de música porque tenho um critério muito amador de julgamento: eu gosto ou não. Exemplo: do padre José Maurício ouço a Missa Fúnebre ou a tardia Missa de Santa Cecília e fico genuinamente emocionado. Escuto muitas árias de Carlos Gomes, das conhecidas melodias d’O Guarani até minha preferida: a Fosca. Jorge Coli nota que no filme Os Clowns (Fellini) o velho palhaço italiano canta uma ária famosa na sua juventude. Quando ele solta a voz, surpresos, identificamos um trecho da ópera Salvator Rosa, de Carlos Gomes.
Houve um tempo no qual as festas não eram apenas para tirar fotos e postar. Naqueles dias distantes, havia conversa, cantava-se e tocavam-se músicas como a canção Quem Sabe. A música de Carlos Gomes teve letra criada pelo advogado espírita Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Os versos iniciais estão no título da crônica de hoje.
O padre José Maurício morreu pobre. Carlos Gomes, atacado por terríveis dores na boca devido ao câncer, buscou apoio em Belém para tentar um fim de vida digno. O gosto republicano já estava afastado do lirismo romântico imperial. Tal como muitos músicos profissionais hoje, em meio à crise que insiste em se abater, a harpa de Santa Cecília é a primeira a se penhorar. O sonho de um país que ampare quem lhe dá alma (sim, falamos dos artistas) continua “tão longe, de mim distante”. Aproveite o dia de hoje para ouvir algo de Carlos Gomes e do padre José Maurício. O desafio de reencontrar coisas bonitas é sempre uma lufada no cotidiano. Bom domingo para todos nós.
Leandro Karnal é jornalista da Agência Estado e escreve para o Cruzeiro do Sul